A questão essencial da aplicação dos modelos e programas de desenvolvimento organizacional e de recursos humanos no País refere-se à identificação da cultura das organizações brasileiras.
Quais os seus valores, opções éticas, normas, práticas e idiossincrasias?
E qual o caráter organizacional que se pretende desenvolver? O que é e o que deve ser a organização brasileira?
Quais são os traços da organização tupiniquim, do Zé da Silva ou do Jeca Tatu, maioria absoluta de micros, pequenas e médias empresas que quase nada têm a ver com os complexos empresariais e as holdings, arremedos de sociedades anônimas, tão discutidas mas também pouco compreendidas?
Entre o que é e o que deve ser, como se inserem os esforços de desenvolvimento das organizações utilizados até hoje no País?
Antes se falava muito em modelo japonês. Mas é isso? Será que a então espantosa recuperação americana afugentou o milagre japonês? E agora que o império norte-americano balaça? E o dos tigres asiáticos? Como ficam?
Em relação à década de 1970, a atitude dos especialistas mudou muito pouco. Antes tínhamos o GRID, 3D, Liderança Situacial, Kepner-Tregoe e até Enriquecimento do Trabalho. Hoje temos outras técnicas ou metodologias: Análise de Valor, Círculo de Controle de Qualidade, Kan-Ban, Produtivismo, Empowerment, Kaizen, Balanced Scorecard, Avaliação 360, Reengenharia, etc.
Mas a postura essencial parece ser a mesma, ou seja, transplantar tecnologias sem a adequada reflexão sobre a realidade organizacional em que se vão aplicar.
É verdade que, como antes, este aspecto é sempre ressaltado através de reiteradas afirmativas de que “se adaptou criticamente o modelo à nossa realidade”.
Em geral, essas “adaptações” se ressumem a meras traduções, algumas até bem feitas, de textos estrangeiros.
Excluindo as exceções de sempre, que apenas confirmam a regra, falta efetivamente aos especialistas da área a capacidade de formular propostas próprias, mesmo que embasadas em estruturas teóricas estrangeiras. Inexiste a propensão de refletir sobre o cotidiano, preferindo sempre as citações de efeito dos últimos lançamentos americanos. O conhecimento enciclopédico (ou “enciclopedante”) tem primazia sobre a reflexão autóctone.
Mas por que essa atitude tímida tem caracterizado o desempenho profissional dos especialistas e gerentes da área de desenvolvimento de recursos humanos? Fala-se muito, mas se age pouco. O discurso, em geral, nada tem a ver com a prática concreta.
A democratização da organização pretendida por todos não se faz a despeito do sistema social mais amplo. Por exemplo: como era possível antes compatibilizar os programas de D.O com a fase áurea do autoritarismo político no Brasil vigente nas décadas passadas? Havia uma evidente contradição intrínseca entre um movimento e outro.
O desenvolvimento de recursos humanos implica relações democráticas na organização.
Ora, como processar ainda hoje essa democratização nas relações de trabalho, quando:
Os ganhos de produtividade não são repassados para a massa de assalariados;
O Brasil apresenta um dos mais baixos salários-mínimos da América Latina;
A CLT antecede a inauguração da Usina de Volta Redonda, portanto, concebida no auge de uma economia agrária e monocultura de café e não para um País que apresenta o 8º PIB no mundo e as condições reais de uma potência industrial emergente;
O mundo do trabalho convive com a contribuição sindical compulsória e o desemprego; a flexibilização das relações de trabalho como um eufemismo para o desmonte de todas as conquistas trabalhistas auferidas por décadas de luta da classe trabalhadora;
A terceirização e o cooperativismo como escapismos à CLT, pois somente 43% da população economicamente ativa têm carteira assinada;
Uma estrutura previdenciária iníqua e destroçada.
A inexistência histórica de uma verdadeira democracia em nosso País é a fonte e o limite dos males de que padece a nação brasileira.
A empresa não poderia fugir a essa limitação. E dentro dela se coloca a opção existencial do profissional de R.H – “ele é o agente de mudanças ou o conselheiro do rei”. Como esse profissional pode e deve trabalhar em face dessa realidade institucional?
Conforme Roberto da Matta identificou, a relação entre os homens na sociedade brasileira é a do doce tirano. Temos carnavais (país do faz-de-conta) e hierarquias (sabe com quem está falando); igualdades e classes privilegiadas, tudo permeado por uma cordialidade que logo se substitui pela contundência do “negro quando não suja na entrada, suja na saída”, “este é um preto de alma branca”, as cotas raciais e a bolsa família.
Temos o samba, a cachaça, o futebol e a mulata, tudo convivendo com a democracia relativa, os juros escorchantes e os tributos criados de surpresa no decorrer do exercício, expressando uma insuperável fúria fiscal dos governantes.
Mário de Andrade tipificou Macunaíma, o herói inteligente, esperto e sem caráter, que particulariza o nosso jeitinho de sempre pretender burlar a ordem e a justiça, mesmo que para isso se valha de propina e da advocacia administrativa (hoje, chamada de lobby). Vivemos hoje o máximo da exacerbação da hipocrisia e do cinismo na vida pública. A sociedade nunca foi tão macunaímica!
O Brasil e, portanto, a organização brasileira, é ainda muito “Casa Grande & Senzala”, conforme Gilberto Freire; ou “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro; ou, ainda, “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda.
O primeiro livro de Jorge Amado significativamente se intitulava “País do Carnaval”. Nesse livro, o principal personagem diz, num momento crucial da ação: “só me senti brasileiro duas vezes. Uma, no carnaval, quando sambei na rua. Outra, quando surrei Julie, depois que ela me traiu”.
Eis aí os fundamentos do autoritarismo machista das organizações brasileiras.
Em verdade, o bicheiro é a grande síntese deste País contraditório, diversificado, ilustrado e analfabeto; rico e miserável; de um potencial econômico fabuloso, mas financeiramente de “pires nas mãos”, a catar minguados dólares no exterior para “empurrar a dívida interna com a barriga”.
O jogo do bicho é a expressão da nossa cultura. Reflete a convivência entre os contrários, o que é a própria essência do processo democrático. Tem, portanto, muito mais a ensinar às organizações empresariais brasileiras do que muitos compêndios traduzidos como best sellers, que conosco costumam nada ter a ver. Costuma-se dizer que é a mais competente organização tupiniquim: eficiente e eficaz, incorruptível, mas corruptora, organizada porém informal, severa e leal. O bicheiro é o protótipo do “ser afável”, homem anfíbio, híbrido de bandido e mocinho. É a metáfora viva de uma sociedade autoritária, mas, no entanto, cordial. Não é à toa que o Brasil foi o último País das Américas a libertar os escravos.
Seriam, por acaso, os programas de administração participativa meras lantejoulas a mascarar o autoritarismo organizacional brasileiro? Afinal, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar os valores reais e os valores proclamados, em diferenciar o dizer e o fazer, em distanciar o mundo no qual se pensa do País real no qual se vive. Neste País do faz-de-conta, onde o ilusório prepondera sobre o real, onde a fantasia da versão é mais verdadeiro do que a evidência dos fatos, é possível que os programas de treinamento tenham a ver muito pouco com a realidade de trabalho.
Os profissionais de Recursos Humanos, refletindo o quadro geral dos administradores e gerentes, estão efetivamente preparados para conviver com essa realidade? Historicamente, os dirigentes de recursos humanos têm desempenhado mais o papel de “feitor” na relação capital x trabalho, ou de mero “contador” das contas de pessoal do que o de aplicador de conhecimentos científicos de motivação e produtividade, antropologia e ciência política, sociologia e história. Faltam-lhes igualmente conhecimentos específicos sobre gestão empresarial e política nacional do ramo da empresa em que atuam. Não têm, portanto, a sua competência adaptada, contextualizada, às reais necessidades das organizações brasileiras, que precisam romper o círculo de ferro de uma tradição paroquialista, familiar e autoritária, quase feudal, em que, à semelhança do coronel de engenho ou do caudilho dos pampas, a relação de trabalho ainda se faz na grande maioria das organizações numa espécie de regime de quase servidão, mesmo quando exercida por um “doce tirano”, simpático, alegre, bem falante, demagogo; mas arbitrário e personalista.
Acho que sem considerar a especificidade da realidade organizacional brasileira, os especialistas em administração terão enorme dificuldade em oferecer uma real contribuição para o desenvolvimento do mundo do trabalho.
Não sugiro que eles tenham que oferecer uma interpretação restrita da atipicidade da cultura de nossas organizações, mas fazer exatamente o contrário. O objetivo é mostrar como a complexidade e a eventual atipicidade da nossa realidade organizacional pode ser considerada através de uma angulação mais ampla e interdependente.
Não proponho uma perspectiva teórica sui-generis para os esforços de desenvolvimento das organizações no Brasil.
Não é uma visão exclusivista, mas que apresente conexão com as teorias de autores consagrados sobre nossa cultura e que ressalte semelhanças não-ocasionais com outras realidades empresariais.
Acho que chegou a hora de explorarmos os limites dessa perspectiva interdependente; avaliar sua adequalidade e capacidade de aplicá-la às nossas organizações.
Aí sim, os modelos estrangeiros sobre desenvolvimento de recursos humanos terão real significância para nós; poderão ser de fato transferidos e não simplesmente traduzidos e copiados, como ainda acontece ao serem aplicados na maioria das organizações brasileiras.
www.wagnersiqueira.com.br

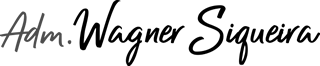



Deixar um comentário